Capa do mês: Mano Brown e Criolo unem trajetórias nos palcos e refletem sobre o futuro do hip-hop e do país
“O Brasil não está pronto para negros cuidando dos próprios negócios, guardando dois para gastar um, mas não vamos esperar o Brasil estar pronto”, diz o líder do Racionais
por Lucas Brêda
A edição chegará às bancas a partir do dia 25/6
“Ele é bonito! Mete a roupa afro, a bata.” Mano Brown cai na risada tirando um sarro do agora parceiro de palco, Criolo, que rebate: “Essa história é de quando eu encontrei com ele em Nova York, estávamos em uma rádio jamaicana e a minha calça era ‘enjoada’ mesmo [risos]”. Em termos de personalidade, os MCs têm pouco em comum. Brown é despojado, direto e cheio de histórias para contar; Criolo é mais sério e contido, com uma humildade que não o deixa tirar os pés do chão em nenhum comentário. Crias da zona sul de São Paulo, contudo, ambos contribuíram de maneiras diferentemente fundamentais para a música nacional. Se hoje o hip-hop é popular e aclamado, é graças às duas trajetórias – capazes de, em menos de 30 anos, dar uma identidade brasileira à arte norte-americana de rimar sobre batidas. Essas batidas serão colocadas lado a lado em cima do palco, em uma série de shows especiais em conjunto que eles fazem a partir de junho.
“A gente nunca foi de ‘colo na sua casa, você cola na minha’”, conta Criolo sobre a parceria para shows, que surgiu após um convite do festival Planeta Brasil, realizado em janeiro em Belo Horizonte. Eles se conheciam há anos dos bastidores do hip-hop, participaram do mais recente disco de Arthur Verocai (No Voo do Urubu, 2016) e também já dividiram o palco na apresentação que gerou o disco/filme Criolo & Emicida Ao Vivo, de 2013. “Ainda estamos tentando entender esse encontro. [No palco] Você olha para um lado, tem o [vocalista de Brown] Lino Krizz, um monstro, aí você olha para outro e tá lá o Brown, que é a história da porra toda”, elogia Criolo. No setlist, a dupla divide as performances entre músicas de um e de outro, além das faixas do Racionais e uma ou outra cover, com uma banda montada especialmente para a ocasião e guiada pelo produtor Daniel Ganjaman. Até o fechamento desta edição, eles tinham shows marcados em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, entre junho e agosto. “Para mim, é tipo estar no [parque de diversões] Hopi Hari. O que eu mais gosto de fazer é debater arranjo. Chegar para os caras e pedir ‘vamos ver como fica isso ou aquilo’”, comenta o líder do Racionais sobre os ensaios. “E lógico que a possibilidade do fracasso existe, e essa é a graça do negócio. Tem cara de sucesso, mas já imaginou [se] Brown e Criolo quebram a cara? Que gostoso [risos].”
Com carreiras estabelecidas no rap, eles recentemente deixaram o gênero de lado para se aprofundarem em paixões antigas. Brown se lançou solo com o álbum Boogie Naipe, de 2016, em que investiga o funk e o soul com temática de baile black. Meses depois, em 2017, Criolo soltou Espiral de Ilusões, LP totalmente dedicado ao samba de roda mais tradicional. “Não diria que nos afastamos [do rap], porque independentemente de fazer show ou disco, isso aí, para nós, é igual a andar, beber água – não dissocia, tá ligado? Comecei a escrever com 11 anos de idade, vou fazer 43 agora, e acho que eu mais tentei escrever letra de rap do que bebi água na minha vida. Estamos nos permitindo ir atrás de algo que amamos”, diz o mais jovem da dupla, complementado pelo parceiro: “É tipo assim: ‘Papai vai ali buscar um progresso. Cuida da mãe e das crianças que eu já volto’, morou? Não vou abandonar meus filhos nunca, minha casa é o rap. Não tem um dia que eu não penso em um rap, do mesmo jeito que não fico sem ver notícias do Santos, pensar na minha mãe, ir na favela fumar um baseado e tomar o café da tia. É coisa da minha vida. Todo mundo quer vender, eu também quero vender, só que do jeito que eu quero, e não do jeito que querem que seja. Hoje, quero ser visto com uma camisa, um paletó, uma rosa na lapela e gel no cabelo. Amanhã, estou de boné e moletom. O Boogie Naipe é isso e o Criolo faz isso com o samba. [É a] mesma raíz”.
Segundo Criolo, “é muito fácil” trabalhar com Brown, e por uma razão bem simples: “Ele faz o que quer”. Basta observar os dois lado a lado por algumas horas para entender a dinâmica. Sempre à vontade, Brown é expansivo, anda para todo lado com uma caixinha de som (ouvindo de trilhas sonoras de Willie Hutch a Stevie Wonder), emenda cigarros e baseados conforme sente vontade e toma o ambiente com brincadeiras. Criolo não chega a abaixar a cabeça, mas trata o amigo com respeito do tamanho da idolatria que sente por ele, e fica até sem graça quando o MC do Racionais sugere que esteja “dando um papo” para a produção de músicas em conjunto no futuro. “Tenho planos para ele. Já comecei ali fora, antes de você chegar”, brinca Brown, falando da conversa minutos antes da entrevista, que aconteceu na base do selo de Criolo, a Oloko Records, em Pinheiros, São Paulo. “É a coisa do convencimento. Falei: ‘Olha, estou nesse lance de soul music, você está cantando bem’. Não é porque ele é meu amigo, da zona sul, mulato, canta rap, pá. É por isso também, mas ele tem características diferentes, e eu enxergo isso.”
Criolo não consegue recordar exatamente a data do primeiro show do Racionais MC’s que viu na vida, no DCD Gigantinho, no Grajaú, em São Paulo. “Eu era muito novinho, adolescente mesmo, papo de 25 anos atrás”, diz. “Imagine: você com 13 ou 14 anos de idade, todas aquelas energias concentradas num ambiente só. É o que te fazia sair de casa e atravessar a cidade sabendo que não tinha busão para voltar.” Mano Brown tem uma memória mais fresca do período: “Ali no Gigantinho tinha pelo menos umas 150 armas em torno da gente – pistola, ‘três oitão’, [calibre] 32 –, cara procurado, gente que fugiu da Febem só para estar lá. Todo mundo era durão, machão, era outra coisa”. O Racionais sequer havia lançado Sobrevivendo no Inferno, álbum de 1997 que fincou o nome do grupo na história da música brasileira, mas já gozava de vasto reconhecimento do público, especialmente o das periferias. “Era uma época difícil para todo mundo, para chegar e sair vivo. Tudo que eu cantava estava me esperando na porta, os problemas reais. Parece heroico agora, mas na época não tinha essa conotação – tudo estava em xeque, inclusive o Racionais.”
Arquivo | Relembre a matéria de capa com Mano Brown, de 2008
Em 1996, o índice de homicídios em algumas regiões da zona sul de São Paulo – berço dos dois MCs – chegou a ser de dois por dia, o que levou o Jardim Ângela a ser considerado o bairro mais violento do mundo pela Organização das Nações Unidas (ONU). Naquele momento, o estilo agressivo e desbocado do Racionais fez mais do que empoderar negros, pobres e favelados, a música serviu como uma espécie de companheira para toda uma geração de jovens que enxergavam pouca ou nenhuma esperança no futuro. “A gente nem sabia analisar. Claro, o show era muito bom – DJ KL Jay e os MCs mandando muito –, só que era mais do que algo técnico, era essa força de te falar algo”, remonta Criolo, que já tentava escrever as primeiras rimas na ocasião. “A música do Racionais faz as pessoas se unirem. Vai além do nome, é a história de quatro pessoas que estão falando uma pá de coisas, tocando seu coração.” O rapper lembra que, com o ambiente descrito por Brown, era difícil até pedir aos pais para ir a um show do quarteto. “Isso para quem pedia, né? Já sabia da resposta”, conta. “Mas a favela nunca teve medo do Racionais. A mãe podia ter medo de o filho sair por causa da violência urbana, só não pode colocar [a culpa] nos caras, porque aí já vira outra coisa.”
Desde o dia em que Criolo viu o show no Gigantinho, muita coisa mudou. O Racionais estourou de vez por todo o Brasil com Nada como Um Dia Após o Outro Dia, de 2002, e ganhou ainda mais respeito e importância a ponto de recentemente ter Sobrevivendo no Inferno listado como obra obrigatória para o vestibular da Unicamp, considerada uma das melhores universidades públicas do país. Criolo, depois de anos comandando a Rinha dos MCs, lançou, em 2011, o disco Nó na Orelha, uma das obras mais importantes para a atualização do rap feito por aqui, que acabou alçando o gênero a posições de destaque nunca antes alcançadas.
“Achei uma virada”, Brown se lembra da primeira vez que ouviu Criolo. “Um som quebrado, linhas de rap que não se faziam há um bom tempo. A coisa veio meio por fora dos padrões que existiam, se viesse por aquele caminho, não ia chegar aonde chegou.” O MC do Racionais cita “Não Existe Amor em SP” e o momento em que o amigo, junto a um sempre ascendente Emicida, colocou o rap em evidência nacional novamente, colecionando prêmios e reproduções na MTV e na mídia em geral, em uma onda de renovação que acabou com a volta do próprio Racionais, em 2012, e depois com o primeiro disco de inéditas do grupo em 12 anos, Cores & Valores, de 2014. Apesar da pouca diferença de idade (Brown tem 48, enquanto Criolo tem 42), os rappers são, de certa forma, bastiões de duas gerações que se relacionam de maneiras diferentes com o hip-hop. Se o estilo gângster do Racionais marcou profundamente a difusão do gênero no Brasil, Criolo surgiu como uma opção mais socialmente consciente em relação a outros tipos de músicas populares na periferia, como o funk. Além de ter uma linguagem bem em sintonia com os novos tempos, a variedade de influências – do reggae ao samba – do cantor acabou oferecendo a ele (e, consequentemente, a todo o gênero) um prestígio também no universo da MPB, rendendo shows com Milton Nascimento, homenagem de Chico Buarque e parcerias com Martinho da Vila, para citar alguns momentos.
Entre o estouro do Racionais, no início do século, e o de Criolo, quase uma década depois, o rap enfrentou um momento de estagnação. “Teve um problema da indústria que aconteceu logo depois da morte do Sabotage, uma queda drástica”, analisa Brown. “No auge do governo Lula, todo mundo achou que o rap estava lucrando com isso, e foi o pior momento da história.” Além da revolução no consumo de música – o físico perdendo espaço para o digital –, o hip-hop teve uma fase de “introspecção” depois do trágico assassinato, em 2003, de Mauro Mateus, o Sabotage, uma figura emblemática não apenas pela contribuição artística, mas também pela presença carismática, levando o gênero à TV (ele participou do Altas Horas, na Globo, algo inédito para rappers até então) e ao cinema. “A gente o via fazer a ponte entre todos os mundos”, diz Criolo, que curiosamente apareceu, ainda jovem, em algumas cenas do clipe de “Um Bom Lugar”, de Sabotage. “[Isso foi o que] Ele deixou: a arte não tem fronteiras e a gente pode se conectar com as pessoas. Isso mexeu muito com o rap.” Fosse na Globo, fosse com os amigos na favela em que morava, no Canão, Sabotage era “um preto original”, segundo Brown. “Fomos mudando o jeito de nos comportarmos”, explica. “O rap ficou mais introspectivo. Todo mundo brecou, reviu conceitos e percebeu que tinha que assumir uma responsabilidade. Até então era todo mundo adolescente, inconsequente. Apertávamos o botão toda hora. Não tínhamos medo de nada.”
Apesar de ter representado amadurecimento, o período pós-morte de Sabotage foi de vacas magras, e de certa forma enterrou alguns lançamentos da metade dos anos 2000. O próprio Criolo chegou a ter pouquíssima repercussão (“Nem teve show de lançamento”, conta) com o primeiro disco, o independente Ainda Há Tempo, de 2006 (depois refeito e relançado em 2016). “Na minha quebrada, por exemplo, nunca parou. Não teve um ano sem a festa da favela, não teve um dia em que eu não trabalhei pelo rap – e pra mim – naquela época”, diz Brown, citando o “trabalho de base” que precedeu a chegada de Criolo e Emicida, nos anos 2010. Hoje, há uma abundância de MCs (talentosos ou não) ao mesmo tempo que parte do rap vislumbra o afastamento do gênero de suas origens de luta. “Veio uma outra geração querendo fazer coisas mais de gringo, mais perto do que faz mais sucesso. Isso é comum, eu também quis usar roupa brilhosa como o Con Funk Shun. Os moleques querem ser o Young Thug, normal. Eu amo trap, sou trap, gosto e muito”, opina Brown, falando do subgênero muitas vezes relacionado a letras menos politizadas e cuja sonoridade é a favorita dos novos MCs.
O crescimento do hip-hop contribuiu para a pauta do empoderamento e deu maior protagonismo aos negros na sociedade, mas também resultou no “embranquecimento” do gênero (são intermináveis as discussões sobre grupos recheados de integrantes brancos que colecionam milhões de views no YouTube, entre eles Haikaiss, Costa Gold e 1Kilo. Os versos racistas da MC Nabrisa em “Passarin” foram o motivo de discussão mais recente). Enquanto o público do rap também é cada vez mais vasto, o funk, hoje produto de exportação, já domina a preferência nas periferias. “Vou falar da minha visão: no segundo governo Lula, eu vi a coisa realmente andar. As coisas ficaram mais rápidas, a tecnologia chegou na favela. Podem dizer que progresso é livro, e é também, mas para uma mãe de família [é importante] ter um micro-ondas, esquentar comida rápido e correr para a creche para buscar o filho. Ela deixa a máquina de lavar funcionando enquanto faz outras coisas. Se o moleque precisa entregar um documento, e tem uma moto, o documento vai chegar. Isso não é progresso? Em 2000, um parceiro morreu de crise de asma porque não tinha um carro na rua inteira para dar carona, morou? Isso é ruim. Veio um conforto para quem nunca teve, comida para quem não comia, autoestima para quem vivia de cabeça baixa”, Brown teoriza. “O comportamento mudou, o funk chegou, o rap mudou, os jovens passaram a ver a vida diferente, a raça negra passou a se comportar diferente, a beleza negra foi vista de outro jeito. E agora chegamos no momento em que a beleza não basta, a raça sabe que ser bonito não basta, tem que ser muito mais.” Apesar de não ser pessoalmente fã do funk enquanto música, Criolo defende a ostentação. “É muito louco querer colocar na conta dos moleques do funk o fato de eles estarem propagando valores que a sociedade passou para eles. Essa sociedade que nos massacra e impõe que você tem que ser bem-sucedido, senão você não presta”, opina. “‘Você é favelado, preto, filho de nordestino, o mais vulnerável da sociedade? Quero que você morra, porque a nossa sociedade só aceita quem tem dinheiro’. A sociedade foi quem falou isso. Agora querem colocar na conta dos meninos do funk?”
Na primeira faixa do recém-lançado álbum O Menino Que Queria Ser Deus, Djonga – rapper mineiro que é dos mais talentosos da nova geração – canta: “Tô achando que é fácil ficar famoso/ Nem conhecem Racionais, vai ouvir um disco meu?” “Ouvi esse disco muitas vezes, ouvi essa frase muitas vezes”, revela Brown. “Ele sabe que as pessoas estão ouvindo o disco dele pra caralho, mas ele quis dizer assim: se você nem ouviu os caras, você não vai me entender nunca.” Tanto Criolo quanto Brown conheceram o rap como meio para tomada de consciência e difusão de conhecimento e a presença deles, juntos, em cima de um palco, é, além da celebração musical, uma lembrança do propósito inicial do gênero em tempos de expansão. Até por isso, em outra música do mesmo trabalho (“Junho de 94”), Djonga evoca samples das vozes dos dois antes de comparar o tal “rap de festa” e o “rap de mensagem” com “hobby” e “trabalho”: “Eu devolvi a autoestima pra minha gente/ Isso que é ser hip-hop/ Foda-se os gringos que você conhece/ Diferencie trabalho de hobby.”
Arquivo | Relembre a matéria de capa com Criolo, de 2017
“Um tempo atrás, fui ao enterro de um amigo e comecei a ver as gavetas do cemitério, as datas de nascimento e morte de outras pessoas”, lembra Mano Brown, começando mais uma história. “Fiquei impressionado com a quantidade de jovem negro morto na década de 1990. Gente nascida tipo em 1982 e morta em, sei lá, 1998. Um monte com emblema do Santos. Muito louco. Uns caras parecidos comigo, com o bigodinho, o cabelo. É verdade, lá no mesmo lugar onde o Sabota foi enterrado. Eita porra, eu vi meus raps ali.” Filhos de pais nordestinos (a baiana dona Ana gerou Brown e os cearenses dona Vilani e seu Cleon tiveram Criolo), eles são mais do que a típica história rapper de “vitória” em meio a adversidades e por meio da arte. Ambos são sobreviventes da própria sociedade, pessoas que conviveram com a morte desde que eram crianças e cujas experiências os acompanham indissociavelmente nos versos até hoje. “De 1989 a 1996, só eu sei o que eu passei”, Criolo rima em “Cerol”, antes de dizer: “Nos barracos de madeira em que eu cresci, aprendi rapidinho que é assim, secava louça enquanto a minha mãe cantava e eu não morri”.
Se estar vivo, por si só, já é um privilégio, Brown e Criolo enxergam a chegada da idade com tranquilidade. Até porque, hoje, além do prestígio artístico e da paz financeira de que gozam, conseguem perceber algumas mudanças pelas quais lutaram por toda ou grande parte da vida. “Vi o Emicida no [programa da Globo] Altas Horas dando uma aula do que é ser mulato no Brasil. Teve uma hora que ninguém podia falar mais nada e chamou os comerciais, morou? Isso me representa”, comemora Brown, que até hoje é seletivo em relação a para quem dá entrevistas e onde aparece, além de manter um boicote histórico à Globo. O rapper também comenta o ataque que o Movimento Brasil Livre (MBL) fez a Emicida, acusado de “hipocrisia” por supostamente usar um terno de R$ 15 mil. “Ele não está gastando dinheiro do povo, e sim o dele. Usar um terno de R$ 15 mil é legítimo, nos representa, porque eles só vão olhar a marca do paletó se for um preto. Se for um branco, é o ‘chefe’. O que os caras ostentam é um barato que vai muito além da mente do racista. O racista jamais vai entender um preto que tem um estilo de vida elegante, charmoso, interessante. Ele pode usar a mesma marca de um cara da favela, mas ele não sabe usar, não sabe se vestir. Tem coisa que é muito particular dos caras do gueto. Os brancos têm o controle da influência, de tudo. O Brasil não está preparado para negros assim. Talvez nem nós estejamos preparados para ver isto: pretos cuidando dos próprios negócios, guardando dois para gastar um. Mas a gente não vai esperar o Brasil estar pronto. Se dói em nós, vai doer neles. Vão ter que aguentar. O Emicida é só a ponta de um iceberg.”
Em entrevistas, Criolo não é de dar opiniões políticas, e até admite uma limitação em dar explicações e análises mais incisivas. “Não sei fazer isso direito, não sei dar entrevista”, assumiu, assim que o gravador foi desligado. “Tem tanta coisa passando pela minha cabeça agora, teria que achar o canto certo para puxar esse pensamento. Queria tanto cantar para celebrar uma mudança, para celebrar que ninguém vai mais sofrer. Mas isso não está acontecendo ainda”, divaga. “Essas sensações ainda me visitam. Como é que somos a oitava economia do mundo e tem um monte de gente passando fome? Aí você vê um jovem com depressão, a alma doente, se perdendo, pessoas que são verdadeiras joias. Tem algumas coisas que não vão para a planilha do Excel de prestação de contas do Estado, né? Se a contagem de corpos já virou essa coisa, quem dirá você querer falar de uma coisa delicada como a mente? Na depressão, eles lucram dos dois lados, com os remédios. E isso sem falar na falta de uma educação adequada para que uma criança cresça e se desenvolva. E nós estamos falando do básico.” Assim como todo o rap, o duo também encara tempos complexos, em que extremistas de direita – como o pré-candidato a presidente Jair Bolsonaro – são populares nas periferias e há uma fatia declaradamente reacionária dos fãs de hip-hop. “Os reaças me curtem, curtem o Criolo”, confessa Brown, de certa forma assustado com a incoerência do que acaba de dizer. “Dá a impressão de que hoje eles são 80%. Temos amigos reaças e é difícil ser amigo de reaça, rola um afastamento.” Para o parceiro, “talvez seja um fenômeno que descreva algumas coisas: cansaço, descrença”, reflete, logo antes de subverter os conceitos por trás de um traje militar para a sessão de fotos.
Com ou sem música em parceria, Brown e Criolo devem voltar a lançar material inédito individualmente nos próximos meses e ambos atrelam a motivação para continuar compondo a uma sede de justiça, mesmo depois de décadas de arte e luta. “O desgaste da vida vai te testando e muita coisa vai ficando para trás. É difícil manter essa energia, mas acho que eu ainda tenho e sei que vários têm”, admite Criolo. Já o MC do Racionais brinca que “ostenta” o fato de ser o mais experiente. “Queria viver de letra. Escrever para o Criolo, para o Emicida, e ficar em casa. Sou o mais velho, tenho o direito. Mas hoje eu tenho que vender sapato, boné, camiseta, tá ligado? Vender minha cara feia, que, na realidade, é o que mais vende. É tudo que eu tenho: este narigão, o bigode e o boné velho.”
À Brasileira
Mano Brown e Criolo ainda carregam a responsabilidade de dar identidade nacional à arte de rimar sobre batidas “Tudo que eu tenho na minha música vem do Nordeste, da Bahia. Até gente de fora já me falou isso, que enxerga o Brasil nos meus sons”, comenta Mano Brown. Tanto os Racionais MC’s quanto Criolo trabalharam durante anos para dar uma identidade nacional ao hip-hop. O quarteto se apropriou de músicas de Cassiano, Tim Maia e Jorge Ben Jor, em samples, enquanto Criolo (com a ajuda dos produtores Marcelo Cabral e Daniel Ganjaman) desde Nó na Orelha (2011) transita tranquilamente com suas rimas entre um samba ou um brega. “O jeito, a garra, a raça e a luta para não ver os filhos passarem necessidade – isso, em um primeiro momento, é o que marca. E, lógico, toda a poesia que o seu povo carrega.” Criolo sempre ressalta a forte influência dos pais cearenses, antes de evocar versos clássicos de “Cidadão”, de Zé Geraldo: “Tá vendo aquele prédio, moço? Ajudei a levantar – mas eu não posso entrar, meu filho não pode entrar”. Ouvindo o companheiro falar, Brown completa: “Aí o filho desse cara começa a cantar rap e vai cantar o quê? Trabalhar é o caralho, meu pai trabalhou a vida toda e é quem?”
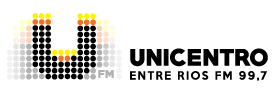














![relembre filmes importantes da atriz indicada ao Globo de Ouro 2021 [LISTA]](https://unicentrofm.com.br/wp-content/uploads/2021/02/careymulligan_richpolk_gettyimages_widelg-218x150.png)




