Capa do mês: a estranha filosofia de Jack White
Ele virou uma lenda do rock ao reverenciar o passado. Agora, o último herói da guitarra está tentando descobrir como viver no futuro
por Brian Hiatt
Em uma noite de inverno em Detroit, anos atrás, Jack White socou a cara de um homem. Com força. E não foi só uma vez, se você acreditar no boletim de ocorrência. Foi a culminação de uma briga entre dois nomes do rock de garagem, em 2003, quando brigas, rock de garagem e nomes ainda estavam na moda. White tem fama de guardar ressentimentos, de enviar, periodicamente, um e-mail destemperado, de “sair pisando duro do palco” às vezes, como as manchetes diziam.
Ele não lamenta nem um pouco. É, deu um soco ou três. “Claro, mas o Johnny Cash também deu”, White diz, inclinando-se para a frente em uma poltrona no seu país das maravilhas sem janela e com teto de latão que ele chama de escritório, dentro da sede de sua Third Man Records, em Nashville. Sentado em um banco atrás dele há um esqueleto em tamanho real, de pernas cruzadas. White volta e meia faz uma pose idêntica, e o efeito causa distração. “Sid Vicious também. Jerry Lewis.”
Ele dá uma risada desconcertante e aguda, revelando um arsenal (nada showbiz) de dentes pequenos e tortos, e se corrige. “Jerry Lee Lewis. Tenho certeza de que Jerry Lewis também! Se você chama a mãe do Johnny Cash de puta em um bar, espera que ele não reaja? Ou vá empurrar uma moto do Hells Angels para ver o que acontece. É insano fazer algo que você sabe que vai insultar outro ser humano e não esperar repercussão alguma.”
Então Jack White tem gênio forte? Ele já disse uma vez, mas vale a pena repetir. “Comigo, você vê os extremos de cada emoção”, afirma. “Felicidade, alegria, ciúme, raiva, empolgação, paixão, luxúria. E ao entrar no modo criativo definitivamente é minha tarefa não colocar nenhum obstáculo quando as emoções vêm até mim. Eu tenho certeza de que se você, tipo, interrompesse Michelangelo enquanto ele estivesse pintando e isso o irritasse, acho que ninguém discutiria o fato de que ele tem todo o direito de se sentir assim.”
“Acho que muitas emoções foram demonizadas ao longo dos anos”, continua, “como se nunca devessem existir no planeta Terra. Discordo totalmente. Sem vingança e raiva e essas ‘emoções negativas’, como teríamos vencido a Segunda Guerra Mundial?” Ele reclina, dá uma tragada em uma das cigarrilhas que fuma e bate as cinzas em um belo cinzeiro de prata e vidro.
Jack White ainda está disposto a falar coisas, mesmo em uma era na qual pessoas famosas são digitalmente desencorajadas de proferir até uma sílaba vagamente provocadora, em que a conscientização extremamente cautelosa é o único modo de entrevista sensato. Ele não se incomoda com o tuíte cínico que você talvez esteja escrevendo neste exato momento e, se não for algo que diria na cara dele, você será chamado de covarde.
White não é covarde. É, em geral, destemido. Dá para ouvir isso no álbum que lançou recentemente, o revigorantemente maluco Boarding House Reach, que o mostra, aos 42 anos, fazendo sua música mais extrema. Tem vocais de apoio ao estilo Bob Dylan gospel (de Regina McCrary, que fez turnê com Dylan na fase dele de rock cristão), piano de jazz, bateria eletrônica, sintetizadores, pausas de conga, passagens faladas, edições vibrantes e um ar geral de fantasia dadaísta insana que faz lembrar que Captain Beefheart sempre foi um de seus ímãs musicais – uma das primeiras fotos promocionais de Beefheart com a Magic Band é um dos muitos tesouros no escritório de White.
Um ponto a considerar: o artista, atualmente atravessando a meia-idade, está no exato momento da carreira quando tendemos a subestimar os músicos. Daqui a dez anos, será uma lenda incontestável, então vamos pular para esse futuro. Mesmo se você tiver certeza de que o rock morreu (não morreu), ninguém neste século fez um trabalho melhor do que o de Jack White de ligar eletrodos a seu cadáver, reanimando-o e forçando-o a dançar. Isso sem contar a criação do único riff de guitarra na memória recente a virar um canto em estádios de todo o mundo. Com base somente nos seis álbuns do White Stripes – sem falar do Raconteurs, o Dead Weather, seu trabalho solo e uma série infinita de produções –, ele mais do que merece um lugar retroativo no cânone do rock clássico.
Além disso: por mais que seja da velha guarda (“Sr. Antigo”, “Sr. Retrô” são os termos com que ele mesmo se descreve para o imaginário popular), White não parou de evoluir. Ainda está rumo a algum lugar, ainda ocupado em nascer.
Jack White acredita em dificultar as coisas para si mesmo. As razões artísticas por trás desse argumento são claras (“Você precisa ter um problema / Se quiser inventar um artefato”, já cantou), mas as psicológicas, nem tanto. Catolicismo? Há uma foto, em algum lugar, de um Jack White menino, naquela época ainda chamado de Jack Gillis, conhecendo o papa João Paulo II. White com certeza tem um pendor para o autoflagelo: “Estou sangrando diante do Senhor”, canta em “Seven Nation Army”. É algo relacionado a ser o mais novo de dez filhos, com pais um pouco cansados demais para estabelecer muitas restrições ao caçula? Provavelmente. Ele pensou, na adolescência, em entrar para o Exército ou virar padre, e acabou abrindo uma empresa na qual os funcionários usam uniforme – e ninguém parece se importar muito com isso, tirando o custo da lavanderia.
Na Third Man, White é o chefe da própria gravadora, apesar de uma parceria com a Sony, e meio que tem saudade de uma era na qual uma grande corporação certinha teria sido um obstáculo. “‘Ei, a gravadora não vai te deixar fazer isso’”, diz fantasiando em voz alta. “‘Você não pode gravar uma música assim!’ Que problemas legais de ter! Que fácil se rebelar contra isso e fazer algo legal e novo acontecer, mas surgi na era da música independente, em que não há regras, então sempre criei minhas próprias restrições.” O White Stripes, claro, dizia respeito totalmente ao que White uma vez chamou de “liberação de limitar a si mesmo”. Embora ele tenha alargado fronteiras ao longo do tempo, a banda era, lendariamente, construída em torno de meros três elementos: a voz de Jack, a guitarra dele e o jeito frequentemente mal compreendido e subestimado como sua ex-mulher Meg tocava bateria.
Só que as regras dele às vezes pareciam beirar o masoquismo, quando não a patologia. White uma vez disse a Nigel Godrich, produtor de longa data do Radiohead, que estava mixando um álbum do Dead Weather sem automação, o que significava que ele e um engenheiro tinham de acertar cada ajuste em tempo real. “A faixa já estava tocando há dois minutos”, White lembra que contou a Godrich, “e falávamos: ‘Ah, porra, esquecemos de ligar a reverberação na porra do vocal no refrão – e começamos tudo de novo’”. Godrich ficou espantado. Os primeiros consoles automatizados surgiram por volta de 1973; dificilmente são feitiçaria digital. “Por que fizeram isso, meu Deus?!”, Godrich perguntou. White não conseguiu explicar direito. “Porque simplesmente preciso”, disse. “Preciso saber lá no fundo que foi feito do jeito certo, do jeito difícil, do jeito trabalhoso.”
No entanto, foi Chris Rock, que se apresentou em um espaço para eventos da Third Man no ano passado, que realmente o incomodou. “Ninguém liga para como é feito!”, disse a White, de passagem. Estava brincando, mas não exatamente.
“Queria que ele não tivesse me dito aquilo”, afirma White, balançando a cabeça, “porque está me assombrando. Porque construí toda a minha criatividade artística com base nisso. Só que ele está certo, porque ninguém dá a mínima! Nem músicos se importam. Sabia?” Ele descreve como mostrou a “músicos modernos” seus equipamentos – os rolos de fita, o console vintage de gravação Neve – e ouviu como resposta: “Bom, tenho um computador”. White dá aquela risada.
Não podem ter sido apenas as seis palavras de Chris Rock. Talvez seja a idade ou a inquietude, mas White começou a se soltar. “Virou: ‘Tenho de abrir mão disso’. Este álbum é a culminação de, tipo, ‘não ligo’. Quero que soe assim. Não ligo para como foi feito.” O que não quer dizer que ele não estabeleceu um conjunto complexo e arbitrário de parâmetros para si mesmo, porque foi exatamente o que fez. Começou gravando demos em um apartamento alugado no qual recriou seu estúdio de quatro canais da época do ensino médio, esforçando-se para começar a compor na cabeça, sem instrumentos. Depois, gravou em Los Angeles e Nova York com músicos que nunca tinha encontrado – alguns de bandas ao vivo que apoiam rappers como Kendrick Lamar. “Certas músicas têm três ou quatro bateristas nelas”, conta White, que, no final, voltou para Nashville para “montar tudo como Frankenstein”, como diz o executivo da Third Man e amigo de longa data Ben Swank. “Não sei se ele estava se sentindo empacado ou algo assim”, alega o engenheiro dele, Joshua Smith, “mas pareceu que se inspirou fazendo as coisas de um jeito um pouco diferente”.
White gravou tudo em fita, como sempre, mas, para editar, recorreu ao Pro Tools, uma conveniência digital que ele condenava, pouco tempo atrás, como “trapaça”. Passar para um domínio no qual a habilidade musical poderia ser superada por um clique de um mouse foi, diz, “uma coisa gigante e assustadora”. Ele também abandonou as guitarras de segunda mão preferidas. Tudo começou quando viu uma entrevista com Eddie Van Halen promovendo o mais recente instrumento com sua assinatura, o Wolfgang Special. “Ele disse: ‘Quero algo que não lute comigo’”, conta White. “Pensei: ‘Estas são as palavras mágicas ruins das quais discordo completamente’. E é por isso que peguei a guitarra dele.”
Então, pediu para Smith conseguir uma dessas, e um amplificador 5150 também, o que levou à visão improvável de White mandando ver em algumas covers do Van Halen. O amplificador não durou, mas ele também conseguiu um modelo assinado por St. Vincent – “Adoro que ela estava fazendo uma guitarra para mulheres” – e também uma Jeff “Skunk” Baxter. Quando sentiu seus dedos deslizando pelo braço do instrumento, ficou espantado. “Ai, meu Deus”, diz. “Se as pessoas soubessem como era difícil naquelas guitarras de merda… porque eu não sabia!”
Pouco antes do almoço, White me mostra algo que veio de um hospital para a saúde mental. É o Alton State Hospital Review, um caderno de 10,5 kg feito por alguns dos 15 mil pacientes de um sanatório de Illinois na década de 1930, narrando a própria vida via prosa, poesia, imagens e até versões minúsculas de tapetes e vestidos que costuravam. “Vou ler isto pelo resto da vida”, afirma, folheando com reverência. Onde conseguir um item desses? “Fez parte de um leilão”, conta, vagamente. No dia seguinte, ele me mostra uma carteira de motorista que pertenceu a Frank Sinatra, aos 28 anos – mais um fruto de um leilão. Às vezes, adquirir essas coisas rende um lucro artístico. No ano passado, White comprou um manuscrito musical escrito por Al Capone em Alcatraz (nos anos 1920, até gângsteres conseguiam ler e compor música) de uma canção chamada “Humoresque”: “Você emociona e preenche este meu coração/ Com alegria como uma suave sinfonia”. Capone, parece, tocava banjo tenor em uma banda da prisão com Machine Gun Kelly na bateria. A canção, uma interpretação de uma obra de Antonín Dvorák, foi compilada, não composta, por Capone, mas White ainda acabou gravando-a como a faixa de encerramento de seu novo álbum. Fica comovido com a ideia de que um assassino famoso tinha uma queda por “uma música tão suave e bonita”. “Isso mostra, tipo, o que estávamos conversando antes”, acrescenta. “Seres humanos são criaturas complicadas, com muitas emoções acontecendo.”
White veste uma jaqueta laranja e preta do Detroit Tigers e caminha pela sede da Third Man até a vaga de garagem onde estacionou seu Tesla Model S. Está garoando em Nashville. Ele ligou o rádio do carro em uma estação de hip-hop, como sempre. Não usa celular, o que significa “liberdade de um jeito imenso”. Também significa que ele teve de sair a pé no frio do inverno outro dia quando um pneu furou na estrada.
Vamos até o estacionamento perto de um restaurante orgânico, onde ele entra e se senta de costas para a parede. “Quando caminho ao ar livre”, diz, “presumo que a todo momento alguém está prestes a me tocar ou dizer meu nome. É um jeito estranho de existir. É como se você sempre estivesse na defensiva. Ninguém dirigiu a porra da palavra a nós nos últimos cinco minutos, mas meu cérebro está vivenciando isso, então é quase como um instinto de homem das cavernas. É meu turno de fazer a vigília, então estou a postos.”
Ele pede uma entrada com homus e uma salada de couve-de-bruxelas com frango. Está em uma dieta meio paleolítica. Descreve sua rotina de exercícios da seguinte maneira: “Corro o mais rápido humanamente possível, por curtos períodos”. É minha vez de rir. “É verdade! Corro mesmo! Na velocidade máxima… em uma esteira. Não consigo correr ao ar livre. É perigoso demais ir tão rápido com pedras e tal, provavelmente quebraria o tornozelo. Não importa a velocidade máxima da esteira, é nela que corro. Por pouco tempo. Para não ter um enfarte ou algo assim.” Acha que é isso o que seres humanos devem fazer. “Você corre o mais rápido que pode para alcançar um alce. Então se esconde por alguns minutos e corre muito rápido de novo.”
Apesar de sua simpatia por homens da caverna, ele é, de muitas formas, progressista. “Por que você não se expulsa?”, cantou, premonitoriamente, em 2007. “Você é imigrante também!” “Os Estados Unidos estão aprendendo que um sistema bipartidário não é uma boa ideia”, afirma. “Estão aprendendo que o Colégio Eleitoral é uma relíquia ridícula do passado… que astros de reality shows não devem ser considerados iguais a políticos… que um único ser humano tem a capacidade de eliminar a humanidade. Que ridículo!”
White menciona um apreço pelo polêmico autor e filósofo do YouTube Jordan Peterson, embora aparentemente só o tenha visto falar sobre religião. “Ele tem mais inteligência do que seu corpo consegue aguentar”, diz. Mais tarde, menciono as bravatas antifeministas, antitrans e antipoliticamente corretas pelas quais Peterson também é conhecido. “Não sabia disso”, afirma. “Talvez seja bom largarmos mão desse assunto!”
Quando White era pequeno, seus pais moravam em um bairro que estava mudando em Detroit, o que fez dele um dos poucos garotos brancos na escola onde cursou o ensino médio. “Você realmente tem uma perspectiva de como é ser alguém da ‘minoria’”, diz. Os irmãos compartilhavam seu amor pelo rock, mas muitos em torno dele não compartilhavam. Sempre havia instrumentos espalhados pela casa, conta Ben Blackwell, seu sobrinho, executivo e funcionário de longa data da Third Man. “Tenho uma lembrança clara de ter 5 ou 6 anos e ouvir uma explicação sobre as partes de um kit de bateria – e Jack me falando dos integrantes do Led Zeppelin.”
White se lembra de uma oportunidade perdida ou duas em seu bairro. Uma vez, ele e um amigo baixista, Dominic Davis, agora músico de estúdio que estará na próxima turnê dele, foram “convidados por um menino afrodescendente da nossa classe que tocava piano e saxofone. Ele falou: ‘Ei, cara, conheço uns garotos do seu bairro, você deveria tocar com eles’. Fomos até lá e dois moleques mexicanos estavam tocando punk, mas as letras deles me assustavam – falavam sobre suicídio, coisas pesadas que eu não conhecia. Até hoje, penso: ‘Cara, deveríamos ter formado uma banda com eles’. Eram incríveis. Era realmente estranho, gostar de punk naquele bairro e ser mexicano!”
O artista é, obviamente, cheio de paixões excêntricas. No início de nosso almoço muito agradável, sem quase nenhuma introdução, embarca em um discurso de 1.100 palavras sobre sua “relação de amor e ódio com enfermeiros” que merece ser encenada como um monólogo no teatro. Começa com uma pedra no rim que surgiu enquanto ele dirigia com Meg em uma van e uma enfermeira que o repreendeu quando estava gemendo de dor ao passar uma segunda pedra no rim anos depois. “Simplesmente os desprezo”, diz, com uma animosidade ainda fresca. “Tipo falei para essa mulher: ‘Como ousa me mandar ficar quieto quando estou sentindo uma dor extrema?! Você deveria estar ajudando alguém que está com dor!’ É como falar com um policial. Eles ouvem muita besteira o dia inteiro. Não querem escutar o que você tem a dizer! Sabe, policiais nunca te olham – sempre estão, tipo, olhando em volta da sala.” Por um momento, faz uma imitação excelente de um policial hostil e evasivo mascando chiclete. “Estão te controlando quando fazem isso.” De qualquer forma, conclui, voltando ao assunto de enfermeiros, “não sei, cara. Não queria ter o emprego deles. É um trabalho difícil, com certeza.”
Se bandas de rock estivessem mais perto do centro da cultura popular, White poderia ser ainda mais famoso do que já é. Em vez disso, “lentamente acabei escolhendo o lugar mais difícil para viver, que é no meio”, diz, de volta ao escritório. “É mais fácil ser um astro pop enorme ou uma banda underground e ser o azarão. Porque destrincham de dois lados diferentes. Há pessoas que querem que você soe igual, que querem que faça algo diferente, que querem que você seja obscuro, que você toque nas rádios.”
Não acha que o superestrelato combine com ele, de qualquer maneira. “A maioria das pessoas no mundo pop só tira sarro do meu visual”, afirma. “Tipo entendo que, por algum motivo, pareço estranho para elas. ‘Esse cara parece o Edward Mãos de Tesoura! Que porra é essa?’” Uma vez, ele brincou que nunca realizaria seu “sonho de ser um negro nos anos 1930” e, embora esteja ciente do “pensamento dos anos dourados” (uma noção romantizada de que outro período histórico é melhor que o atual), dos perigos de “olhar para o passado e só ver as coisas boas de algumas eras”, às vezes anseia pelo passado. “Quer dizer, o racismo horrível e o tratamento dado a gays e mulheres na década de 1920 são difíceis de esquecer”, afirma, “e, ao mesmo tempo, você vê o clipe de um músico tocando em uma boate de Chicago e pensa: ‘Uau, por que não nasci naquela época? Por que não pude lançar meus primeiros discos quando havia tanta inovação por acontecer nos anos 1960?’”
White não é exatamente o primeiro bluesman branco de sucesso e as opiniões dele sobre a ideia de apropriação cultural são cuidadosas e sutis. “Definitivamente há uma família de músicos”, diz, “e quando você toca com pessoas de culturas diferentes ninguém liga para a cor da pele de ninguém. Há pessoas que tiram proveito da cultura das outras e ganham dinheiro com isso? Há, sim. Os negros inventaram tudo. Inventaram o jazz, o blues, o rock, o hip-hop etc. Toda coisa legal na música vem deles. Do sul dos Estados Unidos eles foram para o mundo, o que é absolutamente uma das histórias de Cinderela mais impressionantes de todos os tempos. Incrível. Dá vontade de chorar de tão bonita. E havia grupos de pessoas que não compravam um disco do Little Richard, mas sim a versão do Pat Boone? Claro.”
Ele virou fã de hip-hop e faz algo muito parecido com rap em uma de suas novas faixas. Há uma foto emoldurada de Slick Rick na parede do escritório do músico, perto de fotos de Loretta Lynn e Iggy Pop. Em sua primeira década de fama, White criticava publicamente o gênero, apesar de uma infância que incluía muito dele, com tardes tocando LL Cool J e Run-DMC enquanto brincava nas ruas de Detroit. “Muito daquilo”, explica, “era meu trabalho como artista. Meu papel, na minha cabeça, é não acompanhar o status quo, jamais. Na época, o digital estava tomando conta… então, claro, era minha tarefa pregar a ideia de ‘aqui está uma pessoa cantando e tocando um instrumento. Isto é blues’. Era meio: ‘Eis uma opinião nada popular’.”
Quando está compondo atualmente, White às vezes encontra músicas que claramente pertencem a um projeto específico do passado – o Raconteurs ou o Dead Weather – e, diz, deixa separadas. E se ele encontrar uma música do White Stripes?
Ele ri, um pouco forçadamente. “Isso não acontece muito”, afirma, e faz uma pausa. “Não estou dizendo a ninguém o que pensar sobre o White Stripes. Podem pensar o que quiserem, mas é preciso lembrar que, de muitas formas, o White Stripes é o Jack White solo. De muitas formas.” Ele afirma isso muito casualmente. “Só há duas pessoas na banda. Escrevi e produzi e conduzi. As melodias vêm de uma pessoa, o ritmo vem da Meg. As pessoas definem as coisas pelo rótulo que você dá. Tenho certeza de que, se o Billy Corgan chamasse o disco solo de Smashing Pumpkins, provavelmente teria vendido o dobro ou algo assim.”
Pergunto se há alguma chance de o White Stripes, que terminou em 2011, ressuscitar. Ele aperta os olhos, como se a pergunta fosse estranha. “Duvido muito”, afirma, “que isso seja possível. White também acha que não se casará de novo. “Como artista, para mim é muito difícil ter as coisas comuns da vida cotidiana.” Tem dois filhos com a segunda ex-mulher e diminuiu a agenda de turnês nos últimos anos para passar mais tempo com eles enquanto “estão como uma idade de apenas um dígito.”
Às vezes, questiona se sua intensidade está deslocada na música moderna. “Me pressiono constantemente”, afirma. “No palco, tem vezes que penso: ‘Por que estou fazendo isso? Por que me pressiono tanto?’ A atração seguinte do festival toca o mesmo set da noite anterior do mesmo jeito e se diverte muito. E fico suando em bicas e sangrando no palco. É difícil saber se vale a pena.”
Recentemente viu um vídeo de Bruno Mars ao vivo que o fez pensar. “Ele falou algo que muitos artistas falam: ‘Espero que vocês estejam se divertindo hoje’. É a coisa mais simples do mundo! Nunca falei isso e não sei como falar isso e não sei o que isso significaria.” Pisca os olhos. “É realmente para isso que estamos aqui?”
No começo da minha visita, alguém bateu à porta. “Tem uma intimação para você”, diz uma voz. É Blackwell, o executivo da Third Man, que na verdade trouxe as primeiras três cópias em vinil de Boarding House Reach. “Ahhhh”, White exclama, pegando um disco e olhando atentamente para a capa azul (a pessoa andrógina tem os olhos dele: “Quando você cobre os olhos ou a boca, a figura muda de gênero”). “Ficou bom, cara”, diz, rasgando o plástico da embalagem. “Estão me dizendo que a prensagem de teste soa incrível.” White olha para o vinil novamente, este lindo objeto que trouxe ao mundo, e sorri. “Ele existe agora”, proclama.
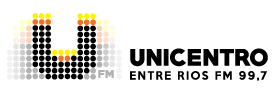














![relembre filmes importantes da atriz indicada ao Globo de Ouro 2021 [LISTA]](https://unicentrofm.com.br/wp-content/uploads/2021/02/careymulligan_richpolk_gettyimages_widelg-218x150.png)




